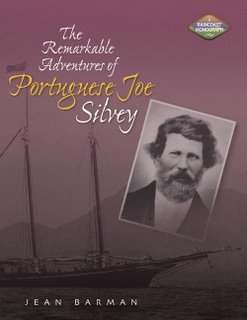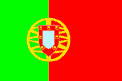... e o pão voltou a ficar inteiro!
Esta é uma de várias histórias que preparo para publicação sobre as mulheres emigrantes que deixaram as ilhas logo após a grande vaga de 1954. Esta é a vida de Maria Júlia, cujo marido ao ouvir a história da sua companheira chorou como uma criança. No final deste trabalho pode ver uma foto a preto e branco da casa onde Maria Júlia viveu na Lagoa.
1 de Agosto de 1958. Maria Júlia do Espírito Santo lançou mais um olhar para o horizonte através da janela junto à varanda. Era quase madrugada. Com a irmã Maria Lígia não pregara olho toda a noite. Enquanto os dois sobrinhos dormiam, ambas retiravam da casa todo o recheio da família para dar a conhecidos e pobres da freguesia.
6H00 da manhã. “Estava um dia maravilhoso”. Maria Júlia, com o coração nas mãos, fecha a porta do nº 2 da Rua Valverde em Água de Pau, freguesia do Concelho da Lagoa. Tinha então 30 anos de idade. “O que mais me custou foi fechar as portas da minha casa. Deixá-la vazia. Fechá-la sem saber quando voltava. Foi um bocado duro. A gente pensa que uma casa não nos é nada, mas ela diz-nos qualquer coisa e isso nos choca.” Encheu os pulmões de ar e orgulho: “Eu vou deixar a minha casa, pensei. Para onde é que eu vou? Mas depois tive que pensar no futuro e esquecer.”
Di-lo com a voz trémula. Uma das poucas vezes que Maria Júlia deixou escapar alguma dor, durante toda a entrevista.
Órfã de pai e mãe. Guilherme Borges de Almeida falecera em 1943. “Foi fazer 51 anos à cova”. Doze anos mais tarde, junta-se-lhe a mãe, Maria Júlia Ferreira de Almeida com 64 anos. O pão partia-se em inúmeras fatias.
Dá a volta à fechadura. Recorda claramente o dia da fotografia. Eram finais da década de 40. Vê-se a si, de braços cruzados, com as duas irmãs e os sobrinhos na varanda. Ao lado, a mãe de luto com o seu xaile e lenço, olhando atentamente o fotógrafo. O sol banha a parte superior da casa. Todas tinham o olhar seguro da mãe, lábios finos e alguma austeridade. Era preciso coragem e dizer adeus à terra em silêncio..
“Depois de partir, paciência. Tive que pensar na outra vida que me esperava.”
Não houve festas de despedida. A autorização por parte do Governador Civil, que estava de partida para Santa Maria foi obtida a ferro e fogo, com ajuda de um amigo de família no dia 31 de Julho.
“Cheguei a casa às 7 da noite. Resolvi fazer malas. Durante toda a noite despejei a mobília que tinha na casa para dar a uns e a outros, para não ficar ali nada. Guardamos de recordação uma chaleira e uma “trempe” de correr. Toda a noite levamos a trabalhar, pois de manhã estávamos de partida para o aeroporto. Não houve tempo para despedidas. Foi tudo muito rápido. Muito chocante.”
Partiu de taxi com algumas amigas, a irmã e os dois sobrinhos em direcção a Santana. “Depois apanhei um avião de 5 pessoas. Eu, a minha irmã, os dois pequenos e um rapaz. Fomos às 7 horas da manhã para Santa Maria. Quando lá cheguei, por graça de Deus, encontrei um senhor amigo, pai de uma rapariga a quem eu dava injecções em S. Miguel, que nos levou para a sua casa, onde pudemos descansar. A nossa viagem para o Canadá ia ser feita a 2 de Agosto à uma da manhã na Canadian Pacific. A viagem levou 11 horas.”
Aos 73 anos, recorda com firmeza aquele dia em que deixou Água de Pau: “Foi um dia de alegria e tristeza. É o que lhe posso dizer. Deixei muitos amigos atrás. Fui a primeira imigrante que tivesse embarcado daqui para o Canadá, como turista.
Não fui de carta de chamada. Tinha no Canadá uma irmã mais velha. A que ia comigo juntava-se ao marido. Eu embarquei foi como turista.”
Com a ajuda de “uma carta enviada à Imigração Canadiana em Lisboa pelo senhor José Hipólito de Melo, proprietário de uma agência de viagens, fui autorizada a partir no mesmo dia com a minha irmã.”
Depois das formalidades, nomeadamente os exames médicos efectuados em Ponta Delgada
Maria Júlia do Espírito Santo estava apta. “Mas tive que fazer uma grande dieta que eu estava gorda que era uma coisa séria. Levei um mês e meio a fruta e água. Foi muito custoso porque sou uma pessoa, que quanto mais fruta come, mais fome tenho. Mas lá consegui emagrecer um pouco.”
Onze horas depois estava no aeroporto de Mirabel, em Montreal. Tal como consta no seu passaporte a entrada deu-se a 2 de Agosto de 1958.
Montreal: de pés descalços !
“Chego a Montreal e fui separada da minha irmã. Fiquei completamente sozinha sem saber dela e sem falar nada em francês ou inglês. Isto porque eu era turista e ela emigrante. Aos gestos, os senhores do aeroporto disseram-me para eu ir para outro lado onde ia receber as malas. Eu fui mas continuava sem saber da minha irmã. Cansava-me de perguntar. Ninguém me respondia E o aeroporto não era o que é hoje. Eram umas tábuas a dividir as repartições. Até onde se punha as malas era feito de madeira. Passava-se ali de qualquer maneira. Não é como hoje. Eu vi o aeroporto velho. Ninguém português para explicar fosse o que fosse. Nem a minha própria irmã eu via.”
A única certeza que tinha da permanência da irmã no aeroporto eram as malas que continuavam à espera. “Eu não peguei nelas. Sabia que eram dela e que devia aparecer ali. Levei então as minhas para serem revistadas. Dentro de uma delas tinha – lembro-me bem - uma caixinha com um relógio de pulso. Um dos homens, que trabalhava no aeroporto, perguntou-me se eu tocava flauta. Fez-me a pergunta através de gestos porque eu não falava nada inglês. Eu disse que não. Que aquilo era um relógio! Então ele meteu as mãos à cabeça e disse: “OH my God...foi o que eu percebi e depois disse fermez...fermez. Eu entendi que aquilo queria dizer para fechar a mala.”
Maria Júlia diverte-se ao recordar este episódio e acrescenta: “Ainda por cima eu estava descalça, com os sapatos na mão. Imagine! Estava com os pés inchados depois de onze horas de avião. Eu já não podia com os sapatos. Foi o meu primeiro sofrimento no Canadá. Depois eu vim a compreender que o homem do aeroporto devia estar a pensar: “esta rapariga deve estar doida”.
Ultrapassado o incidente, “fecho a mala e fui para a saída do aeroporto sempre com a esperança que a minha irmã aparecesse. Os taxistas perguntavam se eu queria entrar. Nunca saí dali!” Não teve medo... “pois sabia que era só uma questão de tempo até que a minha família viesse ter comigo. E assim foi. A minha irmã veio depois, e nisto a outra que vivia já no Canadá chegou com o marido e os filhos e...pronto. Foi um Deus que apareceu diante da gente.”
As bagagens eram muitas e foi necessário “mandar buscar mais um carro de praça. Cheguei muito cansadinha, como calcula, e fui dormir.”
Mas a aventura do dia não ficaria por ali. “À noitinha meu cunhado quis ir comigo dar uma voltinha à cidade de Montreal. Vocês vão passar por um sítio” - disse ele”- onde vão ver o mar por baixo e uma ponte por cima. Calcule aquilo era uma maravilha para mim, e eu ria muito e dizia que estava a ver as luzes todas a correr. Mas era mentira. Foi uma amiga que me deu uma cerveja para beber. Eu tinha ficado um pouco tarouca. Para mim foi uma maravilha muito grande ver aquilo tudo. Mas digo-lhe! Foi uma maravilha muito grande quando tudo começou. Depois é que vieram as complicações”.
Indaguei da roupa que vestia no dia em que partiu. “Tenho aqui uma fotografia para ver. Estava com um chapeuzinho que agente usava naquele tempo, na nossa família. Estava com este vestido e um casaquinho.” Na foto a preto e branco, emoldurada, Maria Júlia está sem chapéu... “Mas foi com esse vestido que eu imigrei.”
As onze horas de avião não foram passadas em angustia, recorda. “A viagem foi muito boa e eu estava tão contente, pois ia para a minha família. Olhava pela janela e via muitos barquinhos brancos no mar, mas aquilo eram icebergs. Tudo para mim foi uma admiração muito grande. Foi uma coisa maravilhosa. Até o taxi de Água de Pau para Santana. Quando cheguei ao Canadá gostei logo daquilo.”
Escola em S. Miguel
Em S. Miguel, Maria Júlia frequentou a escola primária até à 4ª classe. Para além da escola, a vida na Lagoa era passada à volta das lides domésticas como qualquer outra rapariga da sua idade. A educação foi feita sempre sob o olhar atento do pai. “O meu pai sempre foi muito correcto com as filhas. Nunca houve muitas liberdades naquele tempo. Fez sempre tudo para que elas soubessem ser boas donas de casa. Não casou nenhuma porque teve a infelicidade de morrer novo, mas fê-las boas donas de casa e boas cozinheiras. Saber fazer de tudo...de tudo.”
Recorda então, que aos 14 anos, o padre que a baptizou disse ao pai : “Oh compadre, vá ver a sua filha amassando o pão, que aquilo vai sair uma grande porcaria. Foi uma brincadeira da parte dele.” Maria Júlia confirmava assim que desde aquela idade já cozinhava pão como as mulheres adultas da comunidade. “Fazia tudo...de tudo numa casa. Assim fomos educadas.” E foi esta educação que as ajudou a sobreviver os anos que viveram primeiro sem o pai, e depois sem a companhia da mãe. Conheceram também as lides da agricultura e do tratar as terras. “A gente não trabalhava na terra, mas quando era preciso ir à terra pôr isto, aquilo ou aquele outro, íamos. Até que ainda hoje não esqueci as épocas das sementeiras e da apanha das novidades. Meu pai educou-nos com tudo isso. Ele tinha também um talho de carne.”
A vida corria bem aos Almeida. “Nós tínhamos uma vida estável , uma vida boazinha. Depois do meu pai morrer e a minha mãe...” Maria Júlia faz uma longa pausa e, após um profundo suspiro, explica: “havia um pão inteiro para comer quando meu pai e minha mãe estavam vivos. Depois do meu pai morrer com 50 anos de idade, o pão ficou em metade. Morreu minha mãe, ficou em fatias. Nunca passamos fome. Vivi 3 anos sozinha com minhas duas irmãs, com o máximo respeito, mas com muitas dificuldades. Para mim o Canadá foi um céu!
... julgando eu que aquilo era o céu
“Julgando eu que aquilo do Canadá era o céu nos primeiros dias que eu viajei.”
Em S. Miguel, “a gente só tinha carroças e charabãs. Ir no taxi foi tão bom. Imigrar para o Canadá foi melhor. Uma mudança muito grande. E, enquanto viajava naquele avião, os meus pensamentos eram positivos, pois eu pensava que ia fazer uma grande vida. E fiz. Trabalhei muito no Canadá. Fui uma grande labour. Uma grande trabalhadora.”
As primeiras semanas foram “fáceis”. Fiquei em casa porque não tinha autorização para o trabalho”. Minha irmã casada é que me auxiliou mais o marido. Depois mudei-me para a província do Ontário com eles. Foi por pouco tempo, cerca de cinco meses porque logo depois recebi uma chamada da imigração para me apresentar. Assim regressei a Montreal para tratar da minha documentação e ver se ficava no Canadá. E foi aí que apareceu logo um problema”.
Não era filha de seu pai...
Após o nascimento de Maria Júlia, o pai foi dar a conhecer o facto ao pároco da freguesia. Como mandava a tradição católica foi baptizar a recém-nascida. A mãe de Maria Júlia, que deveria ficar uma a duas semanas em repouso, permaneceu, como era tradição em casa. À igreja deslocaram-se somente o pai, a parteira, o padrinho e a madrinha. Naqueles anos, e dada a elevada percentagem de mortalidade infantil, os baptizados eram feitos aos 4º ou 5º dias após o nascimento.
“A minha mãe tinha uma camisinha amarradinha com uns lacinhos nos ombros para vestir os bebés e uma mantinha para agasalho. Era assim que os recém-nascidos da nossa família se vestiam para a cerimónia. As crianças só eram vestidas depois de baptizadas por causa dos óleos santos. Todas as quatro filhas e dois rapazes da família foram baptizadas com a mesma camisinha, que ainda hoje existe, e que nunca foi lavada. Após receber o baptismo, o bebé era vestido na igreja pela parteira que o entregava então à madrinha.”
A cerimónia do baptismo de Maria Júlia não foi diferente, excepto num pequeno pormenor.
”Eu baptizei-me na segunda-feira do Senhor Espírito Santo. O senhor padre achou por bem que eu ficasse por Maria Júlia do Espírito Santo. Para meu pai aquilo foi tudo muito simples.”
O mesmo não acharam os serviços de Emigração do Canadá. “Quando fui tratar dos papeis à emigração eles disseram-me que eu não era filha de meu pai. Não era porque não tinha o nome das minhas irmãs. Eu não era portanto filha de meu pai.”
A confusão instalou-se e Maria Júlia por pouco não se viu de novo sozinha em Água de Pau. Todavia, e com o apoio de alguns portugueses influentes e o recurso a tribunal Maria Júlia conta que tudo acabou por ficar resolvido com “uma procuração que mandei para S. Miguel para que fosse feito um averbamento na minha certidão e assim corrigir o meu nome e ter autorização para ficar.”
Foram as piores quarenta e oito horas passadas no Canadá. “Eu chorei tanto. Porque eu não era nada. Já me tinham até dito que eu devia preparar as malas para voltar. Mas, com as promessas e as orações que fiz ao Senhor Santo Cristo, acabou tudo por se resolver, e fiquei lá com autorização para trabalhar.
Foi o Senhor Santo Cristo...o Sô Santo Cristo. É tudo muito bom quando a gente parte, mas sempre se leva aquela saudade muito grande. E com ela sempre o Senhor Santo Cristo que nos ajuda nas horas aflitas.”
1 dólar e 50 céntimos à hora
Assegurados os papeis e a possibilidade de trabalhar, Maria Júlia inicia-se numa fábrica de descascar batata. “Aquilo fazia-me uma confusão à cabeça, que eu já nem podia com nada. Já estava a pôr máquinas, dedos tudo p’ra dentro. Uma confusão. Misericórdia! Estava sempre com as mãos em água. Eu não aguentava aquilo e saí.” Pouco tempo depois conheceu o emprego que ia manter durante os 9 anos que permaneceu no Canadá (1958 –1967) como operadora de máquina de costura. Ainda hoje possui o cartão vermelho que lhe permitiu ser uma “machine operator” numa fábrica de vestuário infantil. “Eu fui uma grande operator.”
Trabalhava das oito da manhã, umas vezes até às cinco, outras até às nove. Tínhamos um intervalo para o almoço de uma hora e dez minutos para um café às 3 horas. Quando a gente estava em overtime o “bossa” oferecia uma coca cola ou uma fatia de pizza. Tive três anos a ganhar quarenta e nove cêntimos à hora.”
A vida na fábrica não foi fácil e nem todas conseguiam resistir às pressões de colegas e dos patrões. “Eles com os imigrantes faziam o que queriam. Eu cheguei depois a ganhar um dólar e cinco cêntimos por hora. Sempre na mesma fábrica e a prova é que eu fui classificada como a maior labour porque eu trabalhava com máquinas de especialidade. Tinha 5 máquinas. Ora, umas vezes tinha que trabalhar com o elástico, cozer as costuras só das calças ou os elásticos para mangas de fatinhos de marinheiro. Eu trabalhava com uma máquina de 12 agulhas. E eles nunca me pagaram por isso, pelas especialidades que eu sabia fazer. Mas eu gostava de estar na fábrica. Estava tão bem.”. A fábrica onde trabalhava Maria Júlia não tinha responsáveis de secção portuguesas. “Era uma juifa...uma juifa dos infernos que lá estava. Traidora. Em S. Miguel meu pai sempre nos ensinou a trabalhar e a sermos responsáveis, sabendo fazer tudo e rápido. Eu quando achava que o meu trabalho estava pronto, dizia-lhe. Ela respondia-me com raiva “raios te parta imigrée”. Isto porque ela não me queria pagar o trabalho extra, que eu fazia, porque eu era muito rápida.”
A pressão acumulava-se.. Entre a fábrica, as condições de trabalho e a família. Maria Júlia viu-se assim no seio de uma disputa entre as operárias por ter furado o cartão a uma conhecida. Foi chamada aos responsáveis da fábrica e após ter exposto os seus argumentos destemidamente e, exigido a identidade da pessoa que a traiu e pôs o seu lugar à disposição. Acabou por ficar após pedido dos patrões. À saída do escritório preocupadas as operárias amigas indagavam do acontecido junto dos patrões. Maria Júlia limitou-se a responder-lhes: “eu fui lá cima porque eles pediram-me para cantar Abril em Portugal”.
A vida na fábrica era extenuante, particularmente no Verão, quando as temperaturas atingiam valores insustentáveis. “Aquilo era muito calor...mas muito calor mesmo. Havia dias no Verão que a gente tinha que sair todas. Não se aguentava o calor. O restaurante não dava vencimento à Coca Cola, à Seven Up ou à água. Éramos mais de duzentas mulheres. Ficávamos encharcadas em suor. Não se podia.”
O seu primeiro cheque após uma semana de trabalho totalizou 18 dólares.
Falar o francês
“Foi difícil. Fui apanhando o francês aos poucos, principalmente na fábrica. “Coseuse” – a máquina partiu. Foi a primeira palavra que aprendi. O problema é que eu pensava que tinha mesmo partido a máquina. Ficava assustada. Mas era só a agulha que se tinha desenfiado, e eu não sabia como a havia de enfiar. E o “bossa” lá dizia: Julie c’est son aiguille. C’est tout. E eu lá respondia. Merci monsieur. Ele lá ia-me ensinando: c’est son aiguille, son scissure, son didots. Ok ? Nunca mais me esqueci daquilo.”
Dedal, tesoura e agulha foram as primeiras palavras que Maria Júlia aprendeu na nova língua. Escola nunca houve. “Não senhora! Naqueles primeiros anos da imigração isso não havia!”
Perdida na cidade regressa de moto com a policia
À procura de uma peixaria... perdeu-se.
“Era como se tivesse que ir para Vila Franca e acabasse no Nordeste. Perdi-me com as minhas cavalas que ia cozinhar para o jantar.
Depois de algum tempo desencontrada em Montreal encontrei um polícia e mandei-o parar. Depois expliquei-me meio português, meio francês: Monsieur, eu quero ir para Champ-de-Mars. Tenho aqui poisson. Quero fazer peixe pour dinner. O polícia estava numa daquelas motas que tinham uma barquinha ao lado. Eu já estava muito nervosa. Falava mal o francês, mas enchi-me de coragem olhei para ele e disse-lhe: Vous vá m’apporter a Champ-de-Mars. Apareceu entretanto um senhor do continente e eu expliquei-lhe a minha situação . Ele lá disse ao policia onde eu morava, e eu vim de mota para casa.”
Maria Júlia diverte-se ao contar este episódio, que demonstra bem a sua força vulcânica. “Era Inverno, continua a recordar. “Estava com um capuz na cabeça e vim ali sentada com tanto frio, apanhando aquele sinó todo. Mas, apesar de todos estes contratempos ainda cheguei a casa a tempo de consertar as cavalas. Contei a história a minha irmã e aquilo foi um tal a rir as duas.”
Maria Júlia do Espirito Santo, natural da Lagoa numa moto da polícia do Service de la Police de la Communauté Urbaine de Montréal, quando as jovens da sua idade na ilha iam já embalando os seus primeiros filhos.
“Na mota o polícia só se ria. O Canadá, naquele tempo, foi bom para mim. Como lhe disse havia um pão que se havia partido. A vida era outra, e agora eu estava de novo a arranjar cavalinhas para a minha família. Aquilo da fábrica das batatas é que não deu certo.”
A memória, as mal-assadas, a bandeira, Salazar e Nossa Senhora de Fátima
Esta é uma história sui géneris. Maria Júlia nascida em S. Miguel a 14 de Maio de 1928 é uma mulher emigrante, espírito independente que consegue em inícios da década de 60 viver aventuras únicas, que a maioria das mulheres do seu tempo julgariam inadmissíveis. Uma jovem, solteira, de 30 anos transportada de moto pela rua de Saint Laurent é realmente um feito histórico. Mas estes eram episódios esporádicos que contrastavam com um dia a dia monótono e caracterizado pelo trabalho.
“No Inverno, a roupa era lavada na lavandaria e ali seca. A lavandaria ficava na Duluth e enquanto a roupa secava íamos às compras. Cozinhava-se português em casa e a única loja de comércio da nossa terra era a “ARCA”. Tínhamos todos os momentos ocupados, e quando a vida o permitia, os serões eram passados à volta da saudade da terra. Porque agente quando embarca somos umas pessoas divididas”. Festejavam-se, dentro do possível em casa, as tradições da terra.
“No Carnaval, por exemplo, faziam-se as mal-assadas. Tudo era feito das portas para dentro, sempre com a terra natal no coração.”
Recorda então um episódio significativo passado junto ao rio Saint-Laurent. “Um dia o meu cunhado chega a casa e gritando diz: vamos depressa para a doca. Vocês vão ver uma coisa. Todas as mulheres da casa e as crianças fomos até à doca.” E o que viram... “um barco com a bandeira colonial portuguesa”. Com as lágrimas nos olhos Maria Júlia recorda... ”A nossa bandeira portuguesa. Fomos vê-la tão ao longe no mastro de um navio. Quando partimos de Portugal ficamos muito divididos. Recorda-se por isso muito. Vive-se intensamente o passado e a nossa terra. Eram os espectáculos dos portugueses, as poucas notícias que nos chegavam eram comentadas por toda a gente.” Notícias dos Açores só pelas cartas da família e dos amigos. Falava-se da política em Portugal, da Guerra e de Salazar e das ajudas que ele dava aos emigrantes. “Cá por mim queria uma máquina de costura. Mas até hoje. Salazar ajudava os emigrantes através do senhor Manuel Teixeira que me apoiou bastante. Salazar deu muito à Paróquia de Santa Cruz e é que mandou a imagem de Nossa Senhora de Fátima para Montreal. Eu não sei se era o Dr. Salazar directamente que ajudava os imigrantes ou se eram os seus “big shots”. Mas era o governo português e o que eu sei é que a imagem de N. S. Fátima veio directamente de Portugal.” A ideia de trazer uma imagem de Fátima para Montreal fazia já parte do ideal emigrante. Era então na catedral de Notre Dame que os primeiros emigrantes assistiam à liturgia em latim.
Finalmente em 1959 os emigrantes vêm um sonho realizado. A imagem de Nossa Senhora de Fátima adquirida em Braga e paga pelo 1º Ministro Oliveira Salazar chega a Montreal imagem e é então depositada numa dependência da Igreja de Notre Dame onde os portugueses podiam orar. Em 1964 é adquirida uma sinagoga a “Neighbourhood House” Igreja da Comunidade” que se torna pequena. Em 1983 a comunidade adquire a escola “Our Lady of Mont Royal” se instala a Igreja Portuguesa de Santa Cruz.
E se Nossa Senhora de Fátima levava o nome português aos quatro cantos do mundo, o Sr. Santo Cristo transportava a identidade açoriana.
“Ah...meu rico Senhor Santo Cristo. Assisti só a uma ou duas festas do Santo Cristo em Montreal porque depois me vim embora.”
Mulher da primeira geração de emigrantes que chegaram ao Quebec, Maria Júlia não conheceu a transposição das festas do Espírito Santo da sua terra para Montreal que só acontece em 1979.
Recordar era um tomento.”
As festas religiosas eram uma oportunidade para recordar. Mas as memórias das festividades religiosas em S. Miguel tornavam-se um tormento. “Sente-se um tormento, uma dor porque não estamos na nossa terra mas mesmo assim estamos a reviver tudo!”
Os feriados em Portugal e as festas religiosas foram intensamente vividas na intimidade dos seus lares pelas mulheres emigrantes.
“No 15 de Agosto, festa de Nossa Senhora dos Anjos em S. Miguel, depois de tanto trabalho na fábrica, a minha irmã cozia ainda pão de trigo em casa; assávamos carnes e lá se fazia o nosso jantar e acabávamos todas por chorar.”
Mas o que faziam as mulheres da família de Maria Júlia nos tempos livres? “Quais tempos livres?”
Outro dos momentos chave, que recordou com grande emoção ao ponto de me levar a mim também às lágrimas, foi o dia da sua nacionalização como cidadã canadiana.
“Antes de casar decidi me nacionalizar. Tive que aprender muita coisa sobre o Canadá.” Para a cerimónia de naturalização, Maria Júlia foi acompanhada de um compatriota seu de Santa Clara, freguesia do concelho de Ponta Delgada. “Eu e ele levávamos uma bandeirinha de papel de Portugal ao peito. Mas tão depressa estou com a minha bandeira como a arrancaram de mim. Fizemos várias juras e quando debaixo do chão...”Maria Júlia não se contem. O choro toma-lhe conta das palavras “ vejo nascer duas bandeiras. Primeiro a portuguesa e depois a canadiana. A gente cantava o hino canadiano – que eu já nem me lembro. Mas pouco depois eu já não estava a cantar o hino. Eu já não estava cantando nada, porque começou a desaparecer a minha bandeira e ficou só a outra. O rapazinho de Santa Clara agarrou-se a mim e disse-me : minha rica terra! Minha rica pátria! Eles não perceberam. Minha rica terra! Eu vim doente para casa. A gente fala, fala de Portugal...que isso....que aquilo...Mas aquela bandeira tem muita influência.
Depois disso tiraram-nos as bandeiras portuguesas e espetaram as do Canadá. Eu disse cá para mim: para que é que eu quero isso? Apesar de eu estar gostando de estar lá eu queria era a minha bandeira. A pessoa que imigra é uma pessoa dividida.”
...hás - de ser a mãe dos meus filhos
Solteira e jovem teve alguns pretendentes em Montreal, mas o seu coração, já tinha dono. “Um deles era do Porto, mas era muito velho e eu não quis.”
Recorda então como conheceu o seu futuro companheiro em S. Miguel. Tinha 18 anos. Ele era da Lomba do Louçã, Concelho da Povoação. “Era empregado na Loja Taveira, onde vendia cortinados, na Rua Hintze Ribeiro. A minha mãe era freguesa de lá. Eu conheci-o quando ia às comprar com a minha mãe. Mas como sabe naquela altura o namoro era um problema. Eu ia à loja duas ou três vezes no ano. Eram estas as vezes que nos víamos.”
Mas como acontece então o namoro de uma jovem doméstica micaelense com um empregado de balcão a trabalhar em Ponta Delgada quando só se viam 2 ou três vezes no ano?. “Ele é que disse à minha mãe que gostava de mim. Ela era uma pessoa muito divertida. Quando chegou à loja fez lá os seus cumprimentos habituais. Olá Senhor Medeiros. O senhor está com uma boa disposição hoje. Parece que passou bem o fim-de-semana. Ao que ele respondeu: Não senhora. Não fui eu que passei bem o fim-de-semana. Foi um amigo meu que foi passear de mão dada com a sua noiva”. Ao que a minha mãe retorquiu .”Muito bem e o senhor como é que foi com a sua?”
A senhora sabe, eu gosto muito de uma moça de Água de Pau que mora na rua de Valverde n.º 2, numa casa de varanda, e se eu tiver de casar, será com ela.”
Minha mãe não disse nada. Mas naquele dia ele fez-me uma coisa engraçada.” A recordação destes momentos faz brotar um sorriso no rosto de Maria Júlia. Ele ofereceu-me um par de meias sem minha mãe ver e, na altura deu-me um aperto de mão. E eu disse: tu nunca mais me dás apertos nenhuns. Isso tudo sem a minha mãe ver.
Mais tarde a minha mãe disse-me: aquele rapazinho...aquele rapazinho parece que gosta de ti.”
Vieram depois as festas de Nossa Senhora dos Anjos. 15 de Agosto. Altura propícia para os pretendentes das jovens casadoiras se juntarem para mais uma “maliça”, um aperto de mão ou um sorriso comprometedor. Assim eram os costumes na ilha. No Domingo da procissão minha mãe vá à janela e depois diz-me:
“Tá aí um bom problema. Aqui no lado de cima está o gato de olho azul. Este era um dos rapazes que gostava de mim. Ele era de Rabo de Peixe. E do lado de baixo, dizia a minha mãe, está o boneco da Porta Larga.”
- ...senhora?
- É o Medeiros...
- Acabei por não ir à festa por causa disso. Mas ele ficou sempre a gostar de mim. Foi o destino. O tempo passou e eu fui para o Canadá e a coisa ficou por aqui.”
Por aqui, ponto e virgula. Porque tal como nos disse Maria Júlia o destino é uma coisa contra a qual não se pode lutar. Como foi casar com uma pessoa que no fundo quase não conhecia? É o coração.”
E assim foi. Em 1965 de regresso a S. Miguel para umas férias de 15 dias, Maria Júlia reencontra o boneco da Porta Larga.
“Eu ainda estou para casar e estou à sua espera à muitos anos. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Mas não houve ninguém”, remata Maria Júlia do Espírito Santo, que casa no Canada a 25 de Novembro de 1967, ano em que regressa à terra Natal, onde hoje vive em Ponta Delgada com 73 anos ao lado de Arsénio Sousa Medeiros de 83 anos.(2001)
De encontro com ruínas
1965 é também o ano de reencontro com as ruínas do que antes fora o seu lar “Fui sim senhora visitar a nossa casa!” Di-lo com um tom de voz áspero e amargo. “Só encontrei ruínas. Custou-me muito. Chorei muito. Estava tudo cheio de lenha no que havia sido os nossos quartos, a nossa cozinha com os nossos armários. Foi muito duro! Foi muito duro! Quando fechei a porta jurei que nunca mais havia de lá entrar. Não há palavras. Foi horroroso.” A voz trémula esconde as lágrimas contidas. “Nunca devia ter vendido a nossa casa”.
Achei-me muito decidida...
Mulher açoriana, solteira num país estranho e longe da terra, da língua e da sua bandeira descobriu-se “muito decidida. A vida foi outra. Aquela coisa do acanhamento que a mulher tem, a vergonha isso passou. A gente tem que viver. Eu perdi muito disso no Canadá. Não ia deixar que fizessem pouco de mim. E sempre tratei todos com respeito. Mesmo na fábrica nunca chamava os patrões por “bossas” mas sempre por “monseigneur” ou “madame”, mesmo quando eles me diziam para fazer o contrário. Aprendi assim com os meus pais. Portanto também lá no Canadá ia ser assim.”
A sobrevivência levava a formas improvisadas e inovadoras de comunicação. Maria Júlia quando ia aos stores fazer as suas compras arranjava sempre formas criativas para se fazer entender. “ Fazia sempre da mesma maneira. Cumprimentava todos em francês, porque isso eu sabia. Apresentava-me como imigrée, que falava pouco e lá ia avisando ao empregado, que ele me ia ajudar. E assim através de gestos, das poucas palavras que sabia e até de desenhos, sempre comprei tudo o que precisei, e nunca fui explorada por ninguém.” E explicita como fazia para comprar roupa para os sobrinhos:
- Un garçon...comprennez... ?
- Pantalons? Non...não...
- Ah oui...chemise?
- Oui...é isso ...é isso”...
E lá nos ríamos. Nosso Senhor é que sabe, mas eram tão simpáticos. Quando eu entrava lá eles já se começavam a rir.”
A dificuldade era mútua. Maria Júlia afirma orgulhosamente, que aprendeu muito, mas que também ensinou.
- Quero uma chemise...boa...
- Boa?... Boa Noite! Respondia o empregado que já me conhecia. Encontrei gente boa.”
Guarda boas recordações da comunidade italiana, mas reconhece muitos problemas na comunidade portuguesa de Montreal.
“Era uma ganância muito grande. Uma inveja. Era uma coisa muito séria.”
De regresso a S. Miguel passa o tempo a tricotar. A saúde já não lhe permite os banhos de mar. Os serões são passados junto à televisão. O Canadá é já só uma memória avivada nas cartas que chegam ou nos familiares que vêm de visita. Com o regresso aos Açores e o seu casamento Maria Júlia reconhece que perdeu muita da sua autonomia. Foi um processo difícil. “Mas tinha que ser, e com o tempo adaptei-me. Tive uma boa vida.”
FIM